Racismo no rock: os desafios de negros que curtem o estilo
Marcelo Moreira
O rapaz negro, baixinho e gordinho, estava vestido como se fosse um gerente de banco. Tinha saído do trabalho e foi direto para o ber beber Coca-Cola. Estava animado, fazia tempo que não ia a um show.
Quando entrou no antigo Olympia, na Lapa, zona oeste de São Paulo, provocou olhares de todos os que estavam no hall de entrada. Seria um segurança, ou chefe da segurança? Seria um supervisor qualquer de alguma área da casa? Teria entrado no show errado?
Carlos José sabia que causava alvoroço e se divertia bastante com as manifestações "involuntárias" de racismo estrutural. Quando a banda inglesa Yes iniciou o show, ele cantou todas as músicas sem o menor sotaque – era fluente em inglês e proficiente em espanhol. Quem estava ao lado certamente pensou: "Deve ser algum gringo de passagem pelo Brasil".
O século XX estava terminando, mas um negro em show de rock internacional, ainda mais de banda clássica, típica do rock progressivo branco e gordo e flácido – e muito antigo – chamava muito a atenção. E ele brincava conosco: "Eu pago uma cerveja para o primeiro que achar outro negro neste Olympia". Não precisou pagar a aposta.

Jimi Hendrix, o maior de todos os guitarristas, e a 'extensão de seu corpo' (FOTO: DIVULGAÇÃO/REPRODUÇÃO)
Uma história semelhante contou a cantora norte-americana Lisa Kekaula, a voz poderosa da ótima banda "The BellRays, que mistura punk, funk, soul e hard rock.
Negra cantando em um trio de instrumentistas brancos, cansou de ser interpelada, em diversos graus de curiosidade e/ou animosidade: "O que você está fazendo aqui em um show de punk rock?"
"Muita gente parece ter esquecido que um tal de Jimi Hendrix mudou o rock pra sempre com sua guitarra, e ele era negro, assim como Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, Nile Rodgers… Quem disse que o rock, ou o jazz, ou o blues, ou a música qualquer é coisa de branco ou de negro ou de índio", reclamou certa vez em uma entrevista a uma rádio de Los Angeles nos anos 2000.
Carlos José nunca se incomodou com isso. Tirava sarro dos desinformados ou simplesmente estúpidos. Costumava zanzar por São Paulo em um Fusca bem cuidado, que tinha um, som poderoso.
Em rodas de amigos não muito chegados, sempre ouvia: "Ô, Carlão, coloca um sambinha para a gente ouvir aqui no boteco." Seu apreço pelo samba ou rap era nenhum, mas todos insistiam que ele tinha cara de quem adorava os gêneros musicais.
Lentamente, o negro pançudo ia ao seu carro, sempre estacionado por perto, e estourava os alto-falantes com alguma preciosidade do AC/DC ou do Motorhead, para irritação da mesa e do bar inteiro. Só que nunca ninguém teve coragem de interpelá-lo para mudar o som.
Coincidentemente, Lisa Kekaula fez o mesmo no ginásio, quando alguém sugeriu que ela sacasse uma fita cassete de disco music ou de Gloria Gaynor. "Você é negra, deve gostar disso". E então "Speed King", do Deep Purple, explodiu no rádio gravador. "Duas amigas a menos", comemorou na época, temperando a anedota com uma sonora gargalhada na entrevista.
Quase 25 anos depois, Lisa continua detonando nos BellRays e Carlos José de Camargo não está mais entre nós. Ficou mais comum vermos negros em shows de classic rock típicos da mocidade gorda e branca classe média roqueira brasileira.
Eles estiveram em bom número nos recentes shows de Roger Waters, David Gilmour, Whitesnake, Aerosmith e The Who por São Paulo. Mas as marcas de "estranhamento" volta e meia reaparecem.
"Adoro usar minha camisa dos Bad Brains (banda norte-americana de rock pesado, que resvala no punk formada por negros), mas as pessoas se surpreendem quado falo que amo Smiths e R.E.M. Qual o problema? Nunca interpelei meus amigos blueseiros brancos e orientais que veneram Muddy Waters, Buddy Guy, B.B. King e outros", diz Marcos Vinícius Souza, professor universitário de filosofia e história no interior de São Paulo.
Assim como Carlos José, conseguiu olhar de uma forma um pouco mais positiva a questão do racismo estrutural – os dois têm origem em famílias de classe média que propiciaram infâncias e juventudes confortáveis. Conseguiram escapar das situações cotidianas de racismo em geral?
"Claro que não. Eu era exceção nos dois mundos, no meu e nos dos brancos. Houve um tempo em que eu não tinha nome. Era negão e neguinho. Mesmo que eu quisesse, nunca conseguia me destacar na escola. Era ruim no basquete e meia boca no futebol. No começo nem nos grupos de trabalho eu me encaixava, apesar de ser bom aluno. Mais tarde a galera percebeu que eu carregava nas costas todo mundo e fui disputado por gente que sempre manteve distância. Não sei explicar o porquê, mas nunca deixei isso me afetar, ou me afetar muito. E ninguém se conformava de eu saber cantar quase todas as músicas do Simple Minds e de The Cult", recorda Souza.
Carlos José comentou algumas vezes que nunca teve grandes problemas com o racismo brasileiro, apesar de ser vítima quase toda a semana quando ia à escola, faculdade ou trabalho. "Meu pai e meu irmão mais velho me ensinaram a olhar sempre para a frente. Se eu fosse 'tretar' por todas as merdas que eu sofria, acabaria louco ou morto. Me recusaram na vaga para um trabalho por eu ser negro? Procuro outro trabalho. Não querem fazer trabalho em grupo comigo? Faço sozinho. Acham estranho um negro roqueiro e que não gosta de samba? Não dou a mínima. São-paulino com um esterótipo de corintiano? Nem aí, meu time é tricampeão mundial. Olham feio para mim em alguns ambientes e acham que sou empregado ou serviçal? Podem achar o que quiser. Polícia me dá 'geral' e me revista com frequência? Nunca me incomodou, jamais achariam qualquer coisa de errado."
Mas e o engajamento na luta contra o racismo e pelo empoderamento negro?
"Sempre apoiei e participei", disse Souza. "Minha luta foi social, além de combater a discriminação racial. Com menos desigualdade e diminuição da pobreza, o racismo fica com menos espaço para prosperar."
"Meu respeito sempre foi imenso pela causa e pela luta, procurei ler tudo sobre o movimento negro em vários países", ponderou Carlos José após o show do AC/DC em São Paulo, em outubro de 1996. "Só que percebi que muitos dos coletivos dos quais tentei participar queriam se apropriar da pauta e da luta. Quase todos eram de esquerda e cheio de regras e dogmas, adotando posturas que eles mesmo combatiam nos brancos racistas. Como assim ouve rock e não gosta de samba? Como assim lê jornal de branco e revista de branco, livro de branco e mais não sei o que de branco? Tudo bem que era uma época diferente, a ditadura tinha acabado havia pouco tempo e havia uma disputa por espaço. Só que isso me torrou a paciência e me espantou. Nunca mais nem cheguei perto de qualquer coletivo de luta pela causa negra. Tive de lutar pela minha própria causa."
E como você vê os negros no rock hoje, Souza? "Houve mais integração, o que não quer dizer inclusão. Há mais respeito e os avanços sociais nos últimos 30 anos foram essenciais para aliviar os vários ambientes. O mercado de trabalho e a educação estão um pouco acessíveis. Mas o racismo persiste, seja na abordagem policial, na oferta de oportunidades em todos os níveis, no nível de renda. Da mesma forma que os negros são poucos nas universidades de ponta, nos ambientes de trabalho que pagam mais, nas redações de jornais e TV, também são poucos nos shows de rock e nas bandas de rock. Ainda são ambientes hostis, que afastam a garotada negra. Prevalecem ainda muitos estereótipos. Melhorou, mas tem de melhorar muito mais. Houve mais integração, mas tem de haver inclusão, normalizar muitas questões e tornar o combate ao racismo um hábito social. Acho que esse é o maior problema. Da mesma forma que roubar e matar é algo inaceitável socialmente, o racismo tem de alcançar esse mesmo patamar. Tem de ser condenável de forma total e absoluta. Não sinto isso no Brasil e nem nos Estados Unidos."
Sobre os Autores
Sobre o Blog
Contato: contato@combaterock.com.br
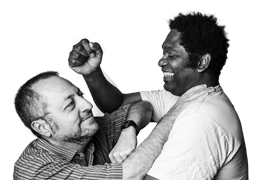












ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.