Arte conceitual em tempos bárbaros: viva Andy Gill, da Gang of Four
Caio de Mello Martins – publicado originalmente no site Roque Reverso
É melancólica por si só a morte de Andy Gill, um dos maiores inovadores das seis cordas, guitarrista do Gang of Four e único membro fundador ainda em atividade na seminal banda pós-punk.
Mas saber que Gill morreu em 1º de fevereiro, um dia depois das celebrações para o início do processo do Brexit, em Londres, torna tudo ainda mais melancólico.
A escolha pelo isolacionismo e pelo chauvinismo da reação contra um inimigo externo que justifique a união nacional e os sacrifícios da pátria deriva de anos de aumentos de gastos militares (vide a participação inglesa em guerras no Oriente Médio), sem contar no tratamento privilegiado dispensado pelo Estado ao mercado financeiro após a crise de 2008, o que acarretou a falência das redes de proteção e dos serviços públicos em geral – incluindo aí o atendimento às massas miseráveis que fogem dos conflitos e crises humanitárias dos quais o próprio Estado britânico é cúmplice.
Andy Gill criou o Gang of Four com seu parceiro letrista/designer/vocalista Jon King, além do baixista Dave Allen e do baterista Hugo Burnham, no final dos anos 1970, época em que Margareth Thatcher levava o Partido Conservador a uma nova e longa era de hegemonia política, iniciando sua cartilha neoliberal de desmonte do Estado (principalmente de suas políticas sociais) e de conflito aberto com a classe trabalhadora organizada, aumentando a desigualdade social e o desemprego consideravelmente.
Gill era natural de Manchester – a mesma Manchester onde a classe trabalhadora, assim como em tantas outras cidades do Norte Inglês, abandonou sua tradicional filiação com o Partido Trabalhista em nome do ideário reacionário de Boris Johnson.
A história do Gang of Four, no entanto, começou na cidade universitária de Leeds, em que o Gang of Four e outras bandas locais, como Mekons e Delta 5, confrontavam na rua e em seus próprios shows as hordas de carecas neo-nazistas da então nascente National Front, que queria cooptar uma nova forma de cultura popular, o punk rock, para embrulhar a sua mitologia truculenta e odienta.
Não só pelas letras, mas também pelo som, o Gang of Four sempre esteve à frente de sua época para nos lembrar que a arte, em sua forma mais informada, consciente e dialética, deve ser como a vida: as respostas para os problemas nunca são fáceis. Ideologias e modos de viver são construções sociais.
Costumes, comportamentos, opiniões são frutos de consensos construídos de forma a fornecer o alicerce pelo qual as classes dirigentes mantêm seu status-quo. Em que medida sua própria existência tem algum valor? Qual a garantia de que os polos e antagonismos da nossa sociedade não existem apenas para assegurar uma posição de poder para seus porta-vozes e uma confortável complacência para seus liderados?
As pitadas de Gramsci, Brecht, Godard e Debord desse coquetel molotov anticonformista só explodia de fato pela genialidade de Gill. "Nada de jams – essa é a 'palavra com jota'", dizia sobre o método de composições da banda, em que improvisação era um anátema tanto quanto "fuck" era para as carolas.
Ter o questionamento como pedra filosófica implicava aplicar o questionamento no plano da forma: fazer a arte expressar a curiosidade compulsiva do explorador que vê cada resposta sua se desdobrar em diversas perguntas, ainda mais desafiadoras que o ponto de partida anterior. O som fraturado, espasmódico e corrosivo do Gang of Four era a trilha sonora adequada para uma existência em que a única certeza era a incerteza.
O grande mentor dessa cefaleia sonora, sem sombra de dúvida, era Andy Gill.
Era ele quem ralhava com Burnham para proibi-lo de usar chimbaus.
Era ele quem controlava Allen para que o talento melódico do baixista não polisse as arestas da banda.
E ele próprio se controlava para que sua "obsessão" (como ele mesmo descrevia) por Jimi Hendrix não fizesse a banda perder seu propósito, tornada refém de arroubos de vaidade e virtuosismo vazios.
A cortante distorção e os lancinantes feedbacks a la Jimi forneciam, junto com os ecos lisérgicos do dub, a atmosfera de alienação que sobrevêm quando a dúvida solapa o chão do questionador; e num golpe de mestre, Gill misturava dois elementos de força bruta: o funk negro e histérico de James Brown e a euforia etílica do rock branco de Dr. Feelgood.
As explorações abstratas do yang intelectual recebem o ímpeto anímico do ying físico – que por sua vez é em si uma síntese entre opostos. Simplesmente genial. Andy Gill não era um virtuosi técnico, mas sim um virtuosi conceitual. Sua visão artística é clara, consistente, plural e dinâmica.
No comunicado sobre sua morte, a banda declarou que Gill, da sua cama de hospital, continuava traçando planos para o próximo álbum do Gang of Four. Depois de um hiato nos anos 1990, a banda voltou a ativa na década de 2010, e pôde prosseguir mesmo com a saída do velho parceiro de crime Jon King – renovada por aquilo que sempre foi seu principal combustível: tempos bárbaros.
Há menos de um ano foi lançado o último álbum deles, "Happy Now", repleto de referências ao populismo internacional inescrupuloso, ao absurdo obscurantismo, ao revisionismo das fake news e congêneres.
Não é porque trabalha com poesia e ficção é que o artista deve se pautar pela função social de oferecer escapatórias fantasiosas e idílicas, de fácil absorção, para a combalida massa sujeita aos ditames da divisão social do trabalho e da formação de capital.
O artista está tão implicado e inserido nessa sociedade quanto qualquer trabalhador; o músico que nega as tensões e as aflições do cotidiano de seu ouvinte em nome do apelo das sensações e do consolo condescendente do refrão fácil está a insultar sua inteligência – como salientou artigo de Anderson França na Folha de S.Paulo sobre o mundo pré-fabricado das celebridades pop brasileiras – e igualmente fadado ao esquecimento no longo prazo.
Baseada na trajetória de um músico que sempre encarou de frente o ardil da censura conservadora e a postura bovina da democracia contemporânea – e ainda conquistou diversos admiradores no mainstream como Michael Stipe, Michael Hutchence, Bono Vox e Flea – fica aqui a esperança deste escriba de que os esforços contra a frivolidade da cultura de massa media não sejam em vão.
Sobre os Autores
Sobre o Blog
Contato: contato@combaterock.com.br
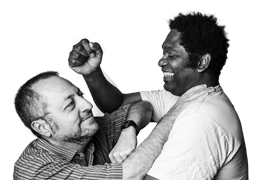











ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.