O rock precisa reencontrar seu lugar e sua vocação para reagir
Marcelo Moreira
A discussão sobre o punk conservador cristão que manifestou simpatia ao ataque terrorista ao Porta dos Fundos suscitou uma pergunta que tem repercutido e sido repetida nestes últimos dias: quando foi que nós, roqueiros, nos tornamos reacionários? Ou ainda: por que não percebemos que envelhecemos mal?
Em última análise, é disso que se trata quando percebemos o rock longe dos jovens, longe dos debates políticos importantes e escondido dentro da resistência ao ultraconservadorismo e à censura: o rock e os roqueiros envelheceram de uma forma triste, dependendo do ponto de vista.
Não se trata de condenar os roqueiros a serem sempre de esquerda e sempre se prontificar a fazer música rebelde ou ter comportamento de protesto. É lícito e respeitável, até, que roqueiros tenham pontos de vista divergentes e mesmo defender posturas, digamos, liberais demais para o gosto de muita gente.
O que não dá para tolerar é roqueiro fascista, preconceituoso e difusor de políticas e comportamentos de ódio, que apoie violência de qualquer tipo, inclusive a policial, sem falar naqueles que acham bonita a censura de qualquer tipo desde que não lhe afete, é claro…
Em que ponto o rock saiu da curva e permitiu que esse tipo de pensamento extremo, que está se disseminando rapidamente dentro do gênero musical, se tonasse explícito? Seria esta uma das razões para o rock estar tão fora dos corações e mentes dos jovens?
Possivelmente, é uma das explicações. O rock envelheceu mal e rapidamente neste século, e parte daqueles músicos maravilhosos que modificaram o pensamento de uma geração nos anos 80 se viu diante de novos desafios – de inspiração, de entender o mundo do século XXI ou de simplesmente entender que a indústria da música, como era, morreu e nada, por enquanto veio para seu lugar.
É uma crise comportamental que pegou os roqueiros mais velhos e estabelecidos meio que "sem agasalho em uma nevasca". Seu discurso não cabe mais em 2020 e o rap e o funk, por incrível que pareça, ocuparam o lugar do rock como voz de uma geração. Artistas destes gêneros têm mais o que falar do que os roqueiros. Será mesmo?
Não falta criatividade
E não dá para falar em crise criativa, a julgar, por exemplo, por "Evoluição Vol. 1", da Plebe Rude, álbum interessante, com letras muito acima da média, quase conceitual, onde a história do homem e sua evolução é contada com algumas analogias sobre o comportamento.
É um baita trabalho e uma lição de história, mas quem é que hoje se dá ao trabalho de dar atenção a esse tipo de arte, quando há coisas mais urgentes e pulsantes acontecendo?
Quem é que vai se dar ao trabalho de escutar e ir ao show "12 Flores Amarelas", ótimo CD duplo dos Titãs, uma ópera-rock atual que trata do avanço da tecnologia, crimes cibernéticos e assédio moral/sexual? A obra é incrível, mas teve uma repercussão quém do que deveria ter, em nossa opinião.
Podemos citar milhares de exemplos, até mesmo na área instrumental, onde Bixiga 70 (jazz, soul e MPB predominam) e Stratus Luna (rock progressivo) extrapolaram os limites e fizeram músicas instigantes e agressivas, provocativas, induzindo o ouvinte a parar e pensar antes de curtir e sonhar.
Podemos até discutir se, diante das características narradas nas obras acima, o rock ficou sério demais e deixou de ser divertido e deser um entretenimento atrativo.
O que não se questiona é a qualidade do que foi produzido e a importância de seu conteúdo pra o debate, por mais que não seja tão aces´sivel uanto antes e não atraia tanta atenção.
Maturidade ou comodismo?
Chegamos a um ponto, então, em que o rock ficou maduro, aos quase 70 anos de existência. Ficou adulto demais, tanto no Brasil como no exterior. Perdeu o caráter debochado e instigante. Deixou de ser provocativo, pelo menos não da maneira como já foi e de como os jovens atuais esperam.
Parece muito claro que algo mais pomposo e elaborado, como "12 Flores Amarelas", não troca mais o coração de moleques e meninas que vivem conectados 24 horas por dia e que fazem da urgência um meio de vida e parte fundamental de seu cotidiano.
Essa pode ser considerada por muitos uma parte extremamente ruim do avanço tecnológico do século XXI. O futuro chegou e parece que, nele, não há espaço para um álbum conceitual, só para singles; não há mais espaço para um filme denso e provocativo, como "Bacurau", só para coisas de consumo rápido e intenso, como "Velozes e Furiosos", "Guerra nas Estrelas" e filmes de super-heróis da Marvel; não há mais espaço para a leitura de coisas pertinentes, como "Como as Democracias Morrem", fundamental para entender o Brsil e o mundo de hoje. Parece que nem mesmo gibis graphic novels mais elaboradas estão fora da ordem.
Diante desse quadro, não há como não reconhecer a competência de artistas e produtores de rap e funk "moderno" em penetrar nas cabeças e arrebatar a atenção da juventude. Isso vale também, em alguma medida, para o mercado do sertanejo universitário.
Diante da urgência e velocidade, da pulverização de opções e diversidade de meios de informação, estão conseguindo produzir conteúdo de forma mais sintética e condensada.
Conseguiram aprender a nova linguagem da periferia dos anos 2010-2020 e resumi-la com maestria, atingindo em cheio o gosto de uma geração de jovens imediatistas, individualistas, uma geração pouco disposta a um aprofundamento de muitas questões e que só quer ouvir o que lhe diz respeito e aos gostos pessoais.
Dá para resumir, então, com boa dose acerto, que o rock perdeu espaço para o pop e hip-hop, de forma mais imediata, que atendem melhor aos anseios de uma juventude voltada para o consumo, o selfie e a ostentação.
Outras ideias, outras prioridades
Protesto e resistência? Esqueçamos essas motivações, a trilha sonora dessa galera é outra. A molecada e até mesmo universitários mais descolados vão para as ruas em manifestações e encaram eventos mais politizados, mas o que ouvem está longe do rock e da MPB mais sofisticada.
Quando retomou sua carreira solo, em 1985, após o fim do Who (a banda ingelsa voltaria em 1989), o guitarrista Pete Townshend assinou contrato com uma gravadora.
No meio das gravações de "White City", daquele ano, o guitarrista e cantor foi abordado por um executivo que lhe perguntou: "Por que você não compões algo como "My Generation" [megassucesso do Who dos anos 60]?"
Intrigado e meio irritado, Townshend respondeu: "Como assim? Eu tinha 20 anos quando compus aquela música. Hoje eu tenho 40. Não penso mais como naquela época, sou um adulto. Minha cabeça é outra."
E eis que então detectamos uma coisa complicadinha que as pessoas até percebem, mas não dão muita importância: o rock nacional amadureceu, ficou mais velho, mais crítico e, em alguns momentos, até mais sofisticado. E as novas gerações de roqueiros entraram nessa toada, de se espelhar nos mais velhos, na geração icônica dos anos 80 (nada contra), mas sem conseguir dar passos além.
Bandas interesssantes dos anos 2000 – exceto o pessoal do tal emocore, que sumiu sem deixar rastros – não só se espelharam nos grandes grupos dos anos 80 e 90, mas se inspiraram de tal forma que, de um jeito ou de outro, repetem ideias, formatos, sacadas e mesmo a forma de compor e se comunicar.
São bandas que estão bem mais perto de Paralamas do Sucesso, Titãs, Capital Inicial, Lobão e outras do que apontando para novos e grandes caminhos.
Sim, tem gente fazendo coisa diferente e de qualidade, como O Terno, Boogarins, Baggios, Far From Alaska, Nervosa, Claustrofobia… Só que ainda encontram certa resistência de um público que não se enxerga e não entende o que está acocendo – digo até que não quer entender o que está acontecendo, seja qual for o motivo.
Essas bandas e muitas outras de rock estão com dificuldade de dialogar com a juventude dos anos 2020. Não conseguem atingir esse público por nao falar a mesma língua e não oferecer algo que se aproxime do cotidiano desse grupo, que quer menos confusão, mais selfies, mais balada, mais pegação e mais barulho.
E aí aparece O Terno com sua música retrô e suas letrais legais, mas melancólicas, falando de um idílio fora de órbita para muita gente e de dores do amor que os jovens da periferia e das baladas parecem ter ojeriza.
Entretenimento por entretenimento, rap, hip-hop, funk e sertanejo estão mais próximos do cotitiano dessa garotada e atingem em cheio seus anseios e suas expectativas.
Ok, é aquela coisa de gente que se contenta com pouco e que não quer sair da zona de conforto – essa é outra discussão e pode passar pela qualidade do que é produzido e consumido. Entretanto, isso é um fato: o rock atual está fora do radar desse povo.
Além das bandas não oferecerem algo de concreto que atraia a atenção da juventude conectada, mas nem sempre bem informada, falta intensidade na busca por um público mais amplo e falta uma cena mais agitada e conectada com a realidade.
Falta um grande artista que galvanize as atenções, que tenha carisma suficiente para chacoalhar as paradas e dizer algo relevante para que o jovem se reconheça naquela música.
Em busca de outros caminhos
Quem está mudando e pode mudar um pouco o cenário é a baiana Pitty, que surgiu em bandas de hardcore em Salvador e pulou para um pop rock um pouco mais pesado neste século.
Inquieta e incomodada com a cena onde as coisas demoram a acontecer, ela busca incessantemente algo diferente, mas não necessariamente novo.

Tássia Reis (esq.), Pitty (centro) e Emmily Barreto: a cantora baiana une forças com artistas de outras tendências (FOTO: DIVULGAÇÃO)
Fez pop moderno com elementos eletrônicos, fez rock de guitarra mais depojado e agora busca aproximação com artistas da MPB e do samba, como a gigante Elza Soares e cantoras do chamado pop eletrônico brasileiro.
O resultado é que seu nome extrapolou o rock e começa a ser aplaudido por outras plateias, que ou não a conheciam ou a conheciam pouco. Com letras mais fortes e diretas, está sendo ouvida por mais gente, ou pelo menos outras pessoas que de outra maneira não a ouviriam.
Essa é a saída? É uma maneira, mas não necessariamente a única. É difícil encontrar a fórmula para os roqueiros se aproximarem de um público que os abandonou ou que os ignora deliberadamente.
Que tipo de entretenimento oferecer a esse público que os outros gêneros oferece sem se afastar dos preceitos do rock? Vamos nso contentar apenas em nos tornar música de nicho, como já acontece com o blues e o jazz desde osd anos 80?
Parece claro que o rock nacional, especialmente o feito em português, ainda busca um caminho que possibilite escapar, ao menos em parte, do rótulo de "música feita para público específico", seja emulando os grandes nomes do passado, seja optando por um som mais underground, beirando o experimental e mais sofisticado.
Do jeito como estamos vendo o mercado, o discurso continua sendo feito para iniciados e para um público já cativo e conquistado, sem muita preocupação em recuperar a galera que já curtiu rock e que já venerou os nomões do BRock 80 – ou mesmo aquela parcela de gente que amava Raimundos, mas que deixou de curtir o som mais porrada para abraçar um pagode romântico e um sertanejo universitário sem maiores compromissos.
Capturar os jovens
O fato é o rock perdeu o discurso jovem, o discurso político e a atenção de quem busca algo que toque o coração. E não tem meios nem estofo para encontrar o caminho para essa recuperação – eu diria até que não há nem mesmo vontade para mudar esse estado de coisas.
Acadêmicos que estudam o fenômeno e nomes importantes do mercado chegam, em alguns momentos, a questionar se não faltam artistas do calibre de Renato Russo, Cazuza ou Raul Seixas para conduzir uma retomada do rock ao topo das paradas e das preferências.
"É um pouco de utopia e exagero a supervalorização de certos artistas supondo que conseguiriam manter tudo maravilhoso mesmo que estivessem vivos", diz Carlos Ribeiro Silva, ex-guitarrista paulistano de bandas punks e de metal e que é cientista social e professor universitário no interior de São Paulo. "Como seriam as letras de Cazuza e Renato Russo aos 60 anos de idade, em 2020?"
Ele entende que, mais do que a qualidade ou falta dela nas músicas atuais – e mais do a falta de engajamento político na esteira de uma era perigosa como a nossa – , a questão se volta contra o próprio rock em sua origem e sua essência.
"O rock brasileiro foi e anda é uma coisa importada e consumida pela classe média. Foi assim nos anos 50 e 60, permaneceu dessa forma nos anos 70, expandiu um pouco nos anos 80 e 90 e parece estar voltando ao seu habitat natural", diz o professor Silva. "Sendo de classe média em um país pobre, mas com cultura rica, era de se supor que haveria um limite para sua expansão. O que ocorreu nos anos 80, portanto, foi algo suspreendente e meio que fora da curva."
Naquele momento havia meios e espaço para que a juventude encontrasse a sua voz em um rock incipiente, mas insinuante, que traduzisse a linguagem de uma juventude que saía de 20 anos de uma ditadura militar brutal e violenta. O samba e a MPB, na época, pareciam cooptados e adaptados. O rock era o ponto de ebulição e a válvula de escape.
Quase 40 anos depois, o rock está assimilado e marginal diante dos anseios uma juventude que tem outras prioridades, outras preocupações e que tem mais divisões entre suas preferências.
Concorrência pesada
A periferia encontrou no rock, no hip-hop e no funk um som e uma linguagem para chamar de sua, coisa que o rock nacional nunca foi de fato para a garotada negra e descendente de nordestinos que ocupa as periferias. Gente que nunca se identificou, neste século, com o tipo de cotidiano da classe média.
Essa classe média dos bairros melhores, com seu leque maior de opções, parece ter cansado das aspirações intelectuais e artísticas (legítimas e necessárias, por sinal) de uma "casta" de roqueiros que ainda vive dos anos dourados oitentistas.
A simplicidade e a superficialidade – quando não a artificialidade e a indigência – do pagode e do sertanejo universitário caíram em cheio no gosto de público não muito exigente e com outro tipo de valores, com a supervalorização do consumo e da ostentação, e nenhuma preocupação com conteúdo ou engajamento.
Para o escritor Ricardo Alexandre, autor de "Dias de Luta" (Arquipélago), o Brasil não depende mais do rock como um vórtex de comportamento, como há 30 anos, quando o gênero teve mais força no país.
Em declarações ao site da revista Veja, anos atrás, ele afirmou que as bandas desse período atingiram o sucesso mais pelas circunstâncias do momento do que necessariamente pelo talento.
"Nos anos 80, a gente tinha um país que queria se manifestar por meio do rock. É claro que um ano em que surgiram Herbert Viana, Renato Russo e Titãs foi um ano realmente especial, mas, se eles surgissem dez anos antes ou dez anos depois, o talento deles não ia mudar tudo", diz o jornalista.
Então, de certa forma, foi possível elencar uma série de circunstâncias que ajudaram o rock a despencar para o certo ostracismo. O rock não fala mais a linguagem da moçada e perde em interesse e em conteúdo para outros gêneros mais agressivos e mais diretos (na questão política e da realidade dura do cotidiano, como o rap) ou menos ambiciosos e inovadores (com conteúdos mais limitados, muito menos novadores e altamanete repetitivos, como o sertanejo).
"É uma geração que cresceu tendo como referência de rock nacional Charlie Brown Jr, que teve impacto enorme, independentemente da qualidade – eu sempre achei bem fraco", diz o cantor de uma banda importante do ABC paulista que faz versões de clássicos do rock nacional. Ele pediu para não ser identificado porque toca músicas do Charlie Brown e não quer ser alvo de ataques nas redes sociais – ou mesmo perder trabalhos por suas opiniões.
"Essa moçada que teve o Charlie Brown Jr como referência nunca se interessou em ouvir com mais profundidade o rock dos anos 80", continua o cantor. "E não conseguiu ser atraída por nenhuma outra banda mais nova de rock em português. O rock nacional mais recente que minha banda toca é do Charlie Brown. Quando tocamos uma da Pitty ninguém reconheceu ou gostou. Não tem como enfiar uma do Vanguart, que já é velha, ou dos ótimos Boogarins. Não faz sentido para a minha banda."
E por que as bandas mais recentes se tornaram banbdas de nicho, de underground? "O rap e o funk cresceram demais e os artistas que cantam isso estão do lado da molecada, todos se esbarram no bar ou nas festas a céu aberto. É uma coisa que agrega uma galera excluída, faz um protesto que tgem a ver com o dia a dia, contra a violência policial e a pobreza. Não é aquela coisa etérea, contra políticos e direcionada a Bolsonaro, por exemplo. O tipo de protesto dessa molecada é outro", arremata Claudinei Alves, professor de geografia da rede estadual de ensino de São Paulo.
Ele dá aulas em duas escolas da periferia em São Bernardo do Campo (ABC Paulista) e ensaiou uma carreira de rapper e DJ na cidade e nas vizinhas Santo André e Diadema.
"A galera até ouve alguma coisa de rock, mas não se interessa, não se preocupa em saber uem canta ou de onde vem. É um som que não diz nada para eles, identificado com gente classe média e com dinheiro. As letras não dizem nada para a galera da periferia ou aquela mais identificada com um rap tipo ostentação", explica Alves.
E o que dizer desse pessoal que cresceu ouvindo Charlie Brown Jr mas migrou em massa para o rap e o funk? O que teria de acontecer para que o rock ao menos ganhasse um pouco de atenção dessa galera?

Charlie Brown Jr., praticamente a última banda de rock de peso que os jovens de hoje ouviram neste século (FOTO: Divulgação)
"Acho improvável que isso ocorra a médio prazo", acredita Alves. "Pode até atrair alguma atenção, mas parece estar enraizado que o rock é alienígena para esse pessoal do rap e do funk. Nem tanto pela falta de uma banda legal ou imponente, mas porque eles observam que o rock tem outro DNA, mira outra coisa, aborda outros interesses. Hoje há opção, e me parece que não havia nos anos 80 ou 90, quando o rock era sinônimo de entretenimento e festa. O rap é a música que nos representa, o nosso grito, e o funk é a nosssa festa. Não quero dizer que o rock não entra, mas não nos atrai, não precisamos dele."
Quem precisa do rock?
Quando mais perseguimos respostas para entender como o rock foi diluído ao longo do tempo, mais perguntas surgem, aparentemente sem solução e que nos direcionm sempre aos mesmos pontos. Por que a periferia não precisa do rock?
"O Brasil não depende mais do rock como um vórtex de comportamento", repito aqui a declaração lá de trás do jornalista Ricardo Alexandre. Para ele, o entretenimento nacional ganhou novas caras e outras cores.
Pelo lado do mercado, a mesma reportagem de Veja traz outro depoimento curioso e indicativo, embora não necessariamente correto. "Os grupos também têm de fazer sua parte. Faltam hits radiofônicos, ou um álbum conceitual de peso que faça estourar uma banda para colocá-la no gosto popular e num patamar de nova estrela do rock nacional", diz Cadu Previero, locutor da rádio 89 FM, que ressuscitou há alguns e insiste em tovcar rock.
Aqui vem outra pergunta: quem é que decide que uma banda é boa ou ruim? Quem decide o que é hit? Como identificar um hit? Jogar esse tipo de coisa na conta das bandas de rock nacional me parece algo sme sentido e, de certa forma, injusto.
Pelo menos desde 2007 é possível identificar, a cada ano, uma dúzia de boas bandas produzindo coisas legais e diferentes. É impossível que esse tal de "mercado" não tenha conseguido identificar um hitzinho sequer.
Portanto, falta qualidade para as bandas brasileiras ou falta competência e inteligência desse mesmo "mercado" para trabalhar, fazer uma triagem e investir para encontrar bons artistas?
O rock está em uma encruzilhada e deverá permanecer ainda, por um bom tempo, naquele limbo chamado "underground" ou "música de nicho".
Temos uma certa cena que possibilita o surgimento de coisas novas e interessantes, mas em níveis bem abaixo do que o rock já atingiu.
É uma cena, digamos assim, autossuficiente e produtiva, mas em esvcala bem menor do que já foi e do que gostaríamos. Está acomodada e mantém pretensões artísticas às vezes irreais se comparada com os gêneros musicais.
Complica um pouco mais a situação a falta de interesse de muitos roqueiros em participar mais do que vemos no cenário político-social-econômico do país.
Diante de tantos ataques à cultura, às artes e ao entretenimento, o rock foi deixado para trás na defesa dos artistas, com o rap e medalhões da MPB assumindo esse protagonismo.
A pecha de comodismo e conservadorismo vai pegando pouco a pouco e os roqueiros que se insurgem, ainda no underground do underground, são vistos como meros rebeldes e "do contra" por gente do próprio meio, indiretamente dando razao ao punk crente e ultravconservador que apoia a censura.
Não é tempo para otimismos diante do sombrio ano que teremos por conta da guerra cultural que o governo federal move contra o conhecimento, a civilização e as artes. Em algum momento teremos de reagir com mais firmeza e mais tenacidade. Estamos bem atrasados.
Sobre os Autores
Sobre o Blog
Contato: contato@combaterock.com.br
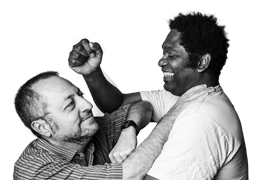














ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.