Só os roqueiros são felizes - ainda bem!!!!!!
O futebol tem a virtude de unir paixões e gerações, mas também serve para separar famílias, povos, criar animosidades e estimular ódio. Portanto, só o rock salva.
Se alguém tinha dúvidas dessa máxima, não mais as terá após ler a bela crônica que o jornalista Julio Maria, do jornal O Estado de S. Paulo, publicou no portal do veículo nesta segunda-feira pós-Rock in Rio e pós-São Paulo Trip.
É aquele medo que só quem é pai consegue entender. "Será que ele vai virar corintiano? Vai gostar do São Paulo? Vai inventar de torcer para o Palmeiras ou para o Flamengo?"
Ou pior: será que vai se afastar de mim para poder ouvir a porcaria do pagode ou do funk no último volume? Vai querer atazanar o velho pai com música ruim para se vingar das velhas manias velhas do velho que ficava enchendo o saco por causa da "música ruim que esse moleque insiste em ouvir"?
O time de futebol aproxima, mas o rock o faz com mais ênfase e mais paixão, em uma conexão inexplicável de ideias, de sentimentos, de cumplicidade extrema.
A crônica de Julio Maria é apenas uma somatória de medos de como encarar os filhos depois que eles crescem: como deixar de soar anacrônico? Como conservar a sua relevância para eles quando viram adulto (pura idiossincrasia, pois é só ver como o seu/seus/meu/nosso/nossos pais são relevantes ainda hoje, sendo que muitos nós são quarentões e cinquentões).
O texto, reproduzido aqui, é muito interessante para quem ainda ama o rock:

Roger Daltrey (dir.) e Pete Townshend no palco do São Paulo Trip (FOTO: DIVULGAÇÃO/MERCURY CONCERTOS)
Foi em algum lugar entre os 14 e 15 anos de Eduardo que eu senti ele estava partindo. Sua vida, de repente, me tirava o papel principal e me renegava à "coadjuvância" de um senhor de óculos e cabelos brancos cheio de histórias do século passado e expectativas de um futuro fora de moda mesmo antes de existir.
Edu foi se calando em seus mistérios, criando seus próprios valores, guardando os maiores sorrisos para os amigos e, para minha agonia, precisando cada vez menos de mim. Como a areia da ampulheta, meu tempo de pai escorria sem compaixão.
Meus filmes não o emocionavam mais, meu frango ao curry estaria eternamente sem sal, meus conselhos o faziam rir e minhas piadas o deprimiam. Nada mais parecia provocar cócegas na muralha erguida em algum lugar entre os 14 e 15 anos de Eduardo.
O último fio que une a adolescência e a maturidade da razão, ambas sofrendo do mesmo grau de insegurança sobre todas as coisas das quais nos imaginamos especialistas, nos conduziu, junto com outras 45 mil pessoas, para um show do The Who no Allianz Parque, em São Paulo.
Convenci Edu do feito histórico daquela primeira vez em que os últimos heróis do rock britânico vinham tocar no Brasil com uma condição. "Se for ruim, você pode ir embora. Mas me dê uma chance." Seus olhos abaixaram e entendi que ele havia aceitado, mesmo que mais por piedade do que convicção.
Eu jogava ali minha última cartada, e comecei a rezar para que Roger Daltrey e Pete Townshend tirassem forças de seus 73 anos para provar que restava ainda alguma vida interessante por trás do senhor anacrônico de óculos e cabelos brancos. Mais do que isso, eu queria estar no mesmo lugar em que meu filho estava, unido a ele por alguma força que não dependesse de minhas tentativas para existir.
O Who não tinha o peso feroz do Metallica nem a dramaticidade de horror do Slipknot, as duas grandes referências do meu filho.
Visualmente também, nada jogava a meu favor. Daltrey entrou no palco de camisa social e óculos de grau jogando o microfone para o alto e o puxando de volta pelo fio como fazia no final dos anos 1960, mas com menos reflexo e agilidade. Por duas ou três vezes, quase acerta a própria cabeça, algo que prefiro não saber se algum dia aconteceu.
Ali, eu só torcia para que o cabo não enrolasse em seu pescoço. Quando percebi que meu filho sorria, olhei para o telão e vi Townshend com os botões da camisa branca abertos, deixando seu umbigo gigante de fora.
Havia uma tensão que, no momento em que senti que era só minha, os acordes de Who Are You começaram. E aí a mágica também começou.
Um adulto ao lado chorava discretamente e as pessoas passaram a pular juntas, quase abraçadas. Edu ali, parecendo firme em sua convicção pela não aceitação de todas as convicções do pai, acendeu minhas esperanças com uma pergunta: "Pai, qual o nome dessa música?"

Daltrey gira o microfone: aos 73 anos, cantor mostra raça e vontade em show memorável (FOTO: DIVULGAÇÃO/MERCURY CONCERTS)
Depois veio The Kids Are Alright, I Can See for Miles e, esplendorosamente, My Generation. "E essa pai, como chama?" Seus olhos não saíam dos telões e ele começou a aplaudir com entusiasmo a cada final. Um jovem de 15 anos aplaudindo qualquer coisa com entusiasmo, posso garantir, é uma cena rara.
Eu esperei passar Pinball Wizard, minha maior aposta desde que saímos de casa, e a impressionista Baba O'Riley para fazer a perigosa pergunta: "E aí filho? Quer ir embora?" Ele apenas sorriu, mas desta vez com uma cumplicidade naqueles olhos grandes de êxtase que eu não sentia desde algum momento entre os 14 e 15 anos de Eduardo.
Fiquei ali ao lado de Dudu sem dizer mais nada, apenas me deixando levar por Won't Get Fooled Again com a alma em paz e emocionado por cada nota que Daltrey não conseguia atingir. A beleza não estava mais em suas virtudes, mas em cada uma de suas tentativas pelo impossível, na vida que havia colocado em cada canção e nas cobranças que o tempo começava a lhe fazer.
Eu olhava a multidão à sua frente e entendia que só os roqueiros são felizes, ou só quem poderia se entregar um dia àquela experiência conheceria a mais forte sensação de liberdade e de um amor coletivo incondicional.
Quando seguimos em procissões, queremos a salvação e o milagre, quando entramos nos estádios por nossos times, só sairemos felizes com a vitória, e quando vamos às ruas com faixas e bandeiras, queremos a derrubada do presidente.
Eu, Du e 45 mil pessoas fazíamos parte da única espécie de multidão que não espera por nada que não seja viver para sempre o instante em que aquela magia irá acontecer, eliminando os 30 anos que separam seu filho de você.
Sobre os Autores
Sobre o Blog
Contato: contato@combaterock.com.br
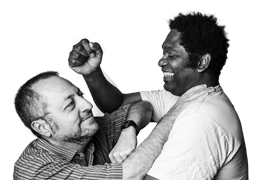










ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.